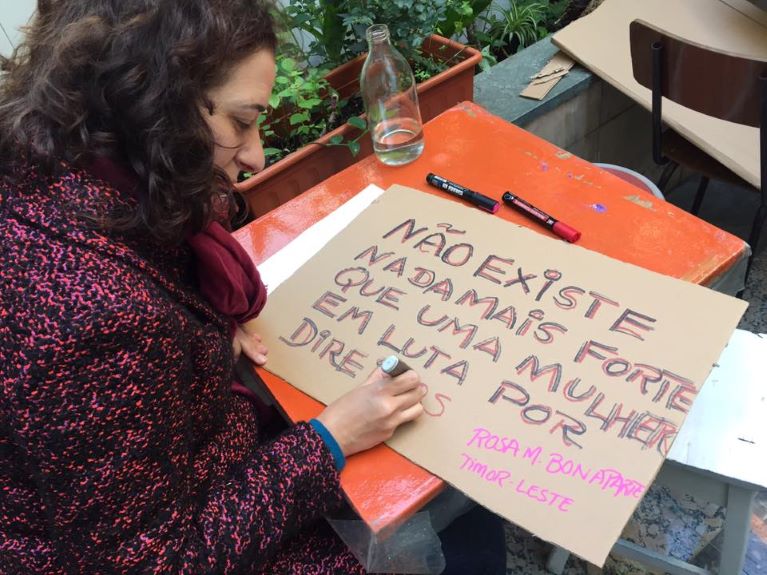Num dia límpido de agosto, subíamos em direção às elegantes montanhas de Oecussi, com o objetivo de chegar à aldeia de Kutet. Durante a caminhada de três horas, num terreno que só permitia alguns veículos com tração subir até certo ponto, o meu olhar prendia-se à vegetação densa, às cascatas e casas cónicas com uma porta desenhada nas fibras de palmeira, com a curiosidade e expectativa de conhecer pessoas e culturas diferentes da minha.
Diferentes, também, das de Díli e de outras regiões de Timor-Leste. Deixámos, lá em baixo, Pante Macassar, uma vila encostada às montanhas e voltada para o mar, de largas avenidas e frondosas ai-hali, árvores generosas na arte de se expandir, com longas e salientes raízes e copas com ramos que se espraiavam e ali acolhiam quem se abrigava do sol.
Esse primeiro olhar era de arrebatamento, com laivos de romantismo, que se tinha acentuado pelas descrições que ouvi de quem vivia no enclave e era de fora, malae, portanto.
Tinha conhecido acidentalmente, ou por destino, uma investigadora de música que estava a fazer um estudo sobre instrumentos e músicos timorenses em diversos pontos do país. Decorria a primeira semana da minha chegada a Timor-Leste e o país aguardava, suspenso, para saber quem seria o próximo governo. O avião que me trouxe a Timor aterrou em Díli no último dia de campanha para as eleições legislativas de 2007.
Contemplei a cidade amarelada pelas poeiras e o tempo seco de junho, a recuperar de uma crise que dividiu famílias e o país. Desde o aeroporto e ao longo das estradas que percorremos, as primeiras imagens que vi de Timor-Leste foram os campos de refugiados e as vidas que ali se improvisavam nos jardins, escolas, hospital, nos passeios da orla marítima.
O impasse político prolongou-se até ao início de agosto e, nesses dias e semanas, todas as casas, tendas e ruas do país se animavam com discussões sobre os vários cenários possíveis, aguardando o anúncio do presidente Ramos-Horta sobre qual governo ele iria convidar para dirigir a nação. Nesse mês e meio viajámos por várias localidades de Timor, ignorando conselhos oficiais de que seria perigoso viajar.
Afinal o Major Alfredo Reinado e o seu grupo de peticionários armados eram avistados quase todos os dias algures nas montanhas de Same, em conversa amena com os polícias e população local. De facto, o povo estava sereno fora de Díli, ainda mais quando os temas eram sobre música e dança.
Nesse dia de agosto, alcançámos a aldeia de Kutet, agora conhecida internacionalmente como o lugar do orfanato Topu Honis, dirigido pelo ex-Padre norte-americano Daschbach, que viria a ser condenado em 2022 a uma pena de prisão por abusos sexuais a menores.
Em 2007, nesse dia, o ex-Padre estava ausente, mas percebi que aquela aldeia se tinha tornado ponto de visita de alguns estrangeiros, em particular australianos, que apoiavam o orfanato. Eram movidos pela ideia de contribuir para uma vida melhor dessas crianças, empobrecidas e isoladas, ainda mais do que as crianças em Pante Macassar ou de outras vilas de Timor. Não imaginavam, e eu menos ainda, que perversão desumana se passava ali.
Conhecemos o chefe de aldeia que chamou os mais velhos para o Bso’ot, uma dança cerimonial em que os dançarinos marcam o ritmo com pesados kini-kini (sinos) atados aos tornozelos, ao som de Gongs e um tambor, e erguem os braços em estado de alegria e em êxtase, potenciado pela mama bua-malus e algum tua-sabo ingerido na festa.
No final da dança, um senhor mais velho, vestido com um impressionante colete de moedas com a cara da rainha holandesa, aproximou-se de mim e falou de forma teatral, retirou uma pesada e dourada bracelete do seu braço e estendeu-ma. Houve algo de inteligível naquele gesto, de bem receber uma visitante.
A seguir a um instante de comunicação hesitante, e de ter colocado a bracelete no meu braço, o chefe de aldeia decidiu traduzir para tétum as palavras que tinham sido proferidas pelo katuas em Baiqueno e um amigo timorense traduziu-as de tétum para português. Nessa altura eu dava ainda os meus primeiros passos na língua tétum.
O katuas disse, então, que me esperava há muito tempo, que finalmente tínhamos regressado — os portugueses (pretensamente, eu seria a representante!). Tínhamos saído de Oecussi e de Timor abruptamente, sem sequer uma palavra, compreendi, eu, a mensagem entrelinhas, entre línguas. Senti um baque no estômago e estremeci, como quando somos confrontados com algo que fizemos errado.
Não estava preparada para aquele momento, uma nação e os seus erros históricos nas minhas costas… fiz um gesto com a cabeça de cortesia, agradeci a oferta que coloquei no braço, mostrei a minha felicidade em estar ali, mas não creio ter pedido desculpa. Algo ficou a germinar dentro de mim. A tradução, a dois tempos, entre sorrisos dos tradutores, chegou ao ouvido do katuas que regressou de novo ao ritmo alegre do bso’ot.
(A continuar…)
Marisa Ramos Gonçalves
Investigadora e Professora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e membro do Conselho de Assessoria Internacional do Centro Nacional Chega!.
Começou por investigar sobre a História contemporânea de Timor-Leste. Em 2007, a vontade de saber mais leva-a ao país para pesquisar nos arquivos da Comissão Acolhimento, Verdade e Reconciliação. Apaixona-se pelos contadores de histórias timorenses e inefáveis paisagens de montanha. Vive em Díli e dá aulas na Universidade Nacional Timor Lorosa’e durante vários anos.
Em 2010, parte para a Austrália para fazer o doutoramento em História e direitos humanos, onde dá aulas na Univ. de Wollongong e Australian Catholic University.