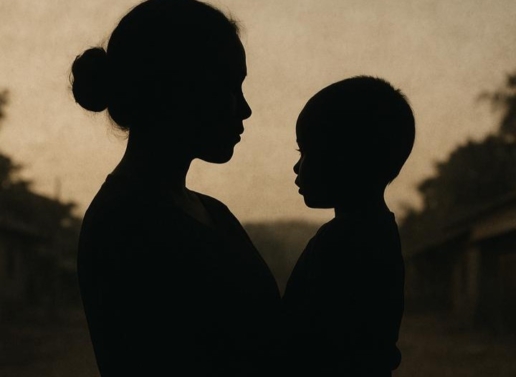Na manhã do dia 15 de setembro, centenas de jovens reuniram-se em frente ao Parlamento Nacional para protestar. Entre as reivindicações estavam o cancelamento da compra de carros novos e o fim da pensão vitalícia dos deputados. Trata-se de uma exigência antiga que ressurge de tempos em tempos.
Para a compra de carros, o governo alocou um orçamento de quatro milhões de dólares americanos (arredondei para menos) e, de acordo com a Lei n.º 7/2017, um deputado pode receber uma pensão vitalícia e assistência médica gratuita após exercer o cargo – de forma interpolada ou contínua – por um período mínimo de cinco anos.
Desde o início, o ambiente estava tenso. Os polícias exibiam armas, pareciam ansiosos e gritavam com os estudantes para que mantivessem distância do Parlamento. Reunidos em frente à Universidade Nacional (UNTL), do outro lado da rua e a poucos metros do Parlamento, os estudantes iniciaram discursos e palavras de ordem.
No meio da rua, encaravam os polícias enquanto dançavam, cantavam e saltavam. Os polícias, por sua vez, tentavam, com empurrões e gritos, manter os estudantes dentro dos limites. Houve ofensas e provocações de ambas as partes.
De repente, ouviram-se disparos de arma de fogo, seguidos de bombas de gás lacrimogéneo. Em pânico, muitos estudantes correram para dentro da universidade na tentativa de se proteger. Porém, a entrada, com apenas dois metros de largura, não era suficiente para a passagem da multidão.
A cena que se seguiu foi chocante. Na sua maioria, eram mulheres jovens, bem como algumas pessoas com limitações físicas, que caíram no chão e aqueles que vinham atrás tombaram sobre elas, e assim sucessivamente. Dezenas de pessoas ficaram amontoadas umas sobre as outras. Tentavam levantar-se e lutar para respirar, sufocadas pelo gás e pelo esmagamento.
No meio do caos – explosões, feridos e o gás a espalhar-se – ajudei alguns a levantarem-se. Levei os que estavam magoados para a sala dos estudantes e para a sala dos professores da faculdade; outros, com náuseas e irritações nos olhos, conduzi à casa de banho. Enquanto isso, orientava os que tinham condições de correr a dirigirem-se para o outro lado do campus, aparentemente mais seguro.
Foi então que reparei num jovem de pés descalços, de calções e com a camisola rasgada. Caminhava com extrema dificuldade. Percebi que tinha limitações físicas, talvez em consequência de uma paralisia infantil, mas não era o momento para fazer esse tipo de diagnóstico. Com os olhos vermelhos e a lacrimejar devido ao gás, andava desorientado, sem conseguir ver nada. Levei-o até uma sala onde já se encontravam outros estudantes, um refúgio temporário.
Passados alguns minutos, o silêncio tomou conta do ambiente. No chão, estavam dezenas de sapatos, chinelos, bonés, cadernos e bolsas, abandonados ou perdidos durante a correria.
Pouco a pouco, os jovens regressaram ao local do protesto. Os coordenadores convocavam os manifestantes a reagruparem-se, insistindo sempre: ‘a manifestação é pacífica’, ‘não atirem pedras’, ‘cuidado com os infiltrados’ (pessoas que se misturavam com os manifestantes para causar confusão). Entre cânticos e palavras de ordem, voltaram a ocupar a rua.
No entanto, menos de dez minutos após terem retomado o protesto, ouviram-se novamente disparos. Um dos tiros atingiu a parede a menos de três metros de onde me encontrava. Em seguida, mais bombas de gás. Nova correria. Pânico. Já não corriam – eram arrastados uns pelos outros. Pessoas a chorar, a vomitar, desmaios, outros a correr às cegas por terem os olhos irritados pelo gás, a cair e a magoarem-se.
Ao longo daquele dia, os policiais entraram no campus, abriram portas das salas de aula e expulsaram, a bofetadas e aos gritos, os jovens que ali procuravam abrigo. A maioria era raparigas e rapazes assustados.
Para onde ir?
Até ao início da manifestação, existiam alguns atritos entre os líderes dos diferentes grupos envolvidos na organização. Um dos membros do comité organizador disse-me que, embora todos tivessem concordado em seguir as orientações da associação de estudantes – que havia decidido por uma demonstração pacífica – ainda havia discordâncias quanto aos métodos a utilizar.
Eram estudantes de várias universidades, com diferentes orientações políticas, motivações, origens e opiniões. Não é fácil organizar um grupo tão numeroso e heterogéneo.
A ação violenta da polícia acabou por estimular, entre os estudantes, aqueles que defendiam uma atuação mais agressiva e incisiva. Durante algumas horas, os representantes dos estudantes perderam o controlo sobre a ação de alguns grupos de manifestantes. Foi o suficiente para que pneus fossem queimados nas ruas, uma viatura do Estado fosse depredada e incendiada, e pedras fossem lançadas contra o edifício e a área de estacionamento do Parlamento Nacional.
No segundo dia, o movimento estava com menos participantes nas ruas. Registaram-se mais confrontos entre a polícia e os estudantes. Os oficiais da PNTL entraram novamente nas salas de aula da UNTL e expulsavam, a bofetadas e aos gritos, os jovens que lá estavam. Não importava que estes não estivessem a causar qualquer transtorno; pelo contrário, estavam a tentar ficar o mais longe possível.
Por duas vezes – pelo menos as que pude ver – os manifestantes levaram até aos polícias alguns homens que alegavam ser ‘infiltrados’. Os jovens diziam que eles não eram manifestantes, mas estavam lá para causar confusão e violência. Estranhamente, os oficiais resistiram em autuar estas pessoas, mas, devido à insistência dos estudantes, acabaram por conduzi-las para longe dos protestos.
Diante disso, perguntei a alguns dos jovens envolvidos o que havia acontecido. Eles disseram-me que os manifestantes haviam identificado aqueles homens como sendo infiltrados a serviço da polícia. ‘Eles estavam a atirar pedras’ e a instigar os outros manifestantes ‘a bater na polícia’.
A ideia de que havia infiltrados passou a circular. Surgiu, também, a notícia de que o líder da juventude de um dos partidos políticos que apoiam o governo havia convocado os seus membros para confrontarem os manifestantes. Identificaram uma pessoa que usava credenciais falsas de jornalista para ter acesso aos estudantes e provocá-los.
Todos estavam apreensivos, pois algumas pessoas estavam no hospital devido a ferimentos provocados por tiros com balas de borracha, e um dos organizadores das manifestações teria sido detido na sua própria casa e, desde então, ninguém sabia onde ele estava.
Ao conversar com alguns estudantes, eles disseram que estavam a pensar em não voltar no dia seguinte, pois sentiam-se inseguros, com medo e por não se identificarem com os rumos que a manifestação estava a tomar.
Neste ponto, a notícia dos protestos, a ação violenta da polícia e os atos de vandalismo de alguns manifestantes já circulavam nos média nacional e internacional. A PNTL passou a ser criticada por vários setores da sociedade.
As imagens dos polícias a agredir os jovens, a lançar bombas de efeito moral, a ostentar armas de fogo e a perder o controlo emocional – inclusive gritando e discutindo entre si – transmitiam a sensação de uma corporação violenta e despreparada.
As redes sociais e as manifestações populares
As redes sociais desempenharam um papel importante tanto na divulgação de informações como na propagação de desinformação. As imagens da violência circularam, mensagens de apoio começaram a chegar e os manifestantes perceberam que não estavam mais sozinhos. Todos puderam acompanhar, pela internet, o que se passava.
Por outro lado, nas redes sociais também circulavam notícias falsas, como a morte de um jovem durante as manifestações (na verdade, a morte havia ocorrido em Ermera, num acidente de carro), prisões que não tinham sido realizadas e ferimentos graves que ocorreram noutro momento. Esse tipo de desinformação gerava confusão e ansiedade, dificultando a perceção dos factos e reforçando o sentimento de insegurança e medo.
Além disso, nas redes sociais, imagens dos protestos no Nepal eram colocadas lado a lado com as imagens das manifestações em Díli; a luta dos palestinianos pela sobrevivência era associada ao contexto timorense; vídeos do major Reinaldo a convocar o povo a resistir a opressão; e até memes e recortes de falas antigas de deputados, ora a apoiar, ora a contestar a compra de carros e a pensão vitalícia, eram partilhados em diversos grupos.
Iniciou-se uma ‘disputa de narrativas’, com imagens e relatos seletivos que procuravam moldar o entendimento dos protestos segundo diferentes interesses.
Como em toda ‘guerra híbrida’, algumas mensagens reforçavam a imagem de violência e caos para deslegitimar a mobilização estudantil, enquanto outros amplificavam atos de resistência pacífica e solidariedade, polarizando a opinião pública. E claro, não faltaram insultos, boatos e acusações de todo o tipo, tornando o ambiente virtual tão tenso quanto as ruas.
Isto evidenciou como o mesmo evento pode ser interpretado de formas diversas, dependendo dos vieses cognitivos e do enquadramento das informações nas redes.
17 de setembro, um dia para ser lembrado
No terceiro dia, na manhã de 17, o ambiente estava totalmente diferente. No dia anterior, os coordenadores do movimento tinham-se reunido para avaliar as suas estratégias e os resultados obtidos até então. A PNTL fez o mesmo. Sem que combinassem, mudanças foram feitas em ambos os lados.
Por volta das 9 horas, já havia centenas de pessoas. O clima era amistoso. Houve discursos, e o comandante da Polícia foi convidado a falar, mas não estava lá no momento.
Os jovens organizaram os grupos: cada setor tinha os seus coordenadores, responsáveis por orientar os manifestantes, garantir a segurança do seu perímetro e observar a eventual presença de ‘infiltrados’.
Mais grupos chegavam a todo o momento e eram saudados com aplausos e entusiasmo; em pouco tempo, a rua estava repleta de manifestantes.
Os oficiais da PNTL continuavam armados e a proteger a entrada do Parlamento, mas com uma postura mais relaxada e tranquila; alguns deles sorriam e conversavam com os estudantes. Estes, por sua vez, organizaram a distribuição de água para os manifestantes e ofereciam-na também aos polícias, que aceitavam de bom grado.
Não houve empurrões, gritos ou ameaças. Em vez disso, houve muita música, canto, palavras de ordem, declamação de poemas, discursos e a participação de pessoas sem relação com o movimento estudantil. Setores da sociedade civil mobilizaram-se para fornecer água, alimentos e apoio público às reivindicações.
A PNTL mudou a sua abordagem e a equipa destacada para a linha de frente. Vários dos polícias que lá estavam tinham frequentado recentemente ou ainda frequentavam cursos universitários. Houve uma maior proximidade e empatia entre polícias e manifestantes.
O resultado foi um dia sem conflitos, sem atritos e sem ameaças – democrático, alegre, recetivo e festivo. Foi o dia que contou com o maior número de participantes.
Enquanto isso, representantes dos estudantes reuniram-se com os deputados. Foram quase sete horas de conversa. Transmitido pelas redes sociais, o encontro revelou jovens bem preparados, que sabiam do que falavam, firmes e determinados, mas, ao mesmo tempo, respeitosos.
O encontro terminou com a garantia da suspensão da compra dos carros para este ano e com a disponibilidade – de alguns parlamentares – de elaborar uma proposta para rever o sistema de pensão vitalícia dos deputados. Um pequeno avanço.
Na minha opinião, este dia deve ser lembrado como um exemplo de que é possível protestar com firmeza sem recorrer à violência, de que a polícia pode exercer o seu trabalho com eficácia sem o uso da repressão excessiva e de que todos ganham com o diálogo entre ideias diferentes. O adversário não precisa de ser visto como um inimigo.
Anomalia ou sinal de mudança
Ainda é cedo para saber se as estratégias utilizadas na manifestação de 17 de setembro foram apenas uma anomalia, se fazem parte de um padrão cíclico da dinâmica social que surge e desaparece de tempos em tempos, ou se representam um evidente sinal de mudança.
Em História, a relação entre causa e efeito não é óbvia nem linear; é complexa, multifatorial, pode retroceder e, por vezes, os efeitos alteram as próprias causas.
A dinâmica sociocultural timorense é marcada por um sistema patriarcal, hierárquico, moralista e autoritário, onde liderança se confunde com agressividade, educação com punição, respeito com submissão, convicções com intransigência e mudança com subversão. Hoje, as ameaças e os traumas emergem dentro da própria sociedade e os seus conflitos internos, e não de inimigos externos. Mudanças culturais levam tempo e muito trabalho.
A aprendizagem que fica é que, reunidos em grupo, somos mais fortes; mudanças estruturais na sociedade não são fáceis, mas são necessárias e possíveis; quanto mais aberta à participação de diferentes ideias e perspetivas, mais rica se torna; é possível discordar com empatia; a agressividade não é o único nem o mais eficaz meio de resolver os problemas; e a juventude está a mostrar que tem o que dizer e quer ser ouvida.
Por isso, penso ser importante valorizarmos o que ocorreu na manhã do dia 17 de setembro e parabenizar os manifestantes, os polícias que lá estavam, a sociedade civil que apoiou e os deputados que se disponibilizaram a conversar com os estudantes.
Mas – sempre há um ‘mas’ – não podemos ser ingénuos ou utópicos: o resultado das reivindicações e a sua influência simbólica, política, emocional e social, é um capítulo cheio de tensões e disputas de poder, que continua a ser escrito.